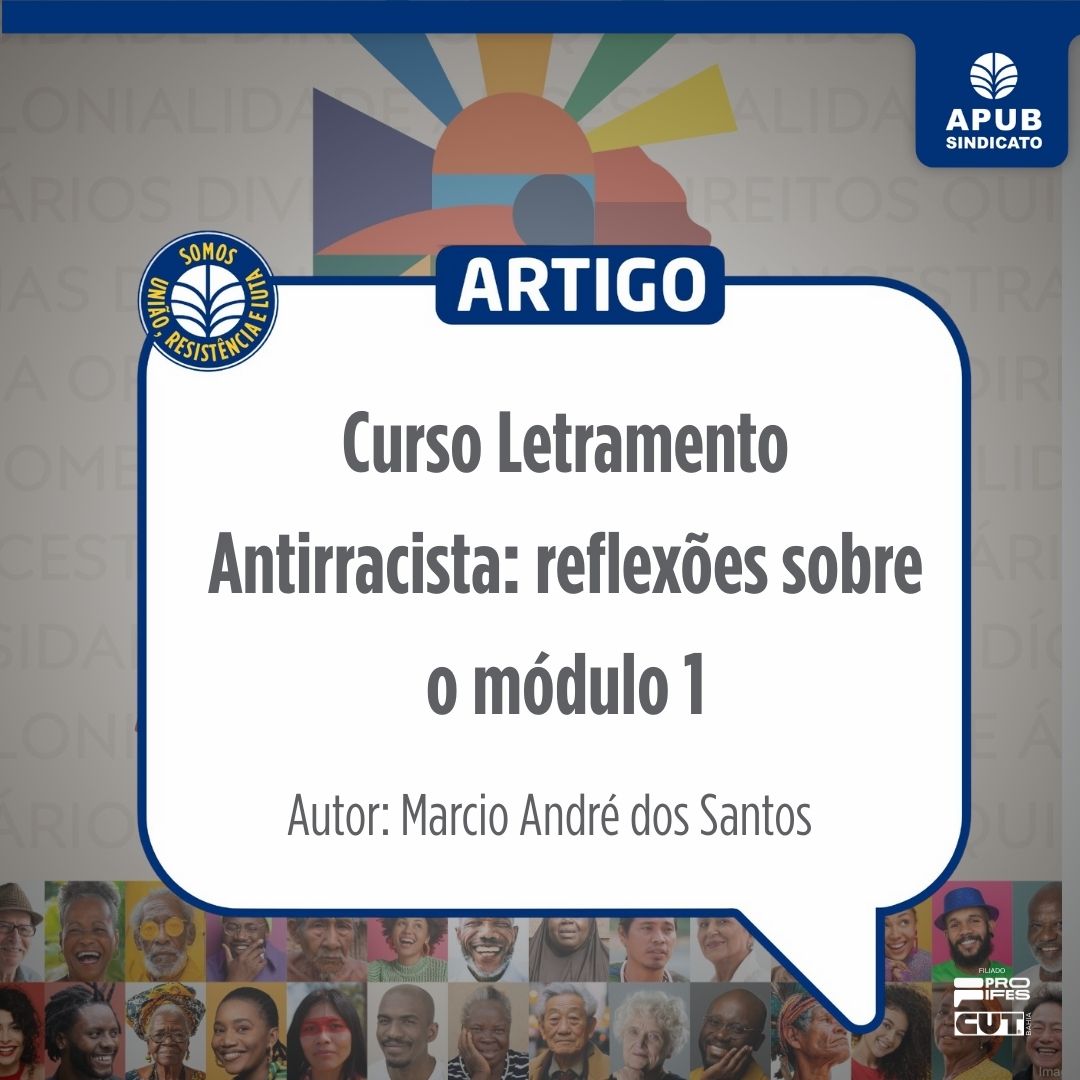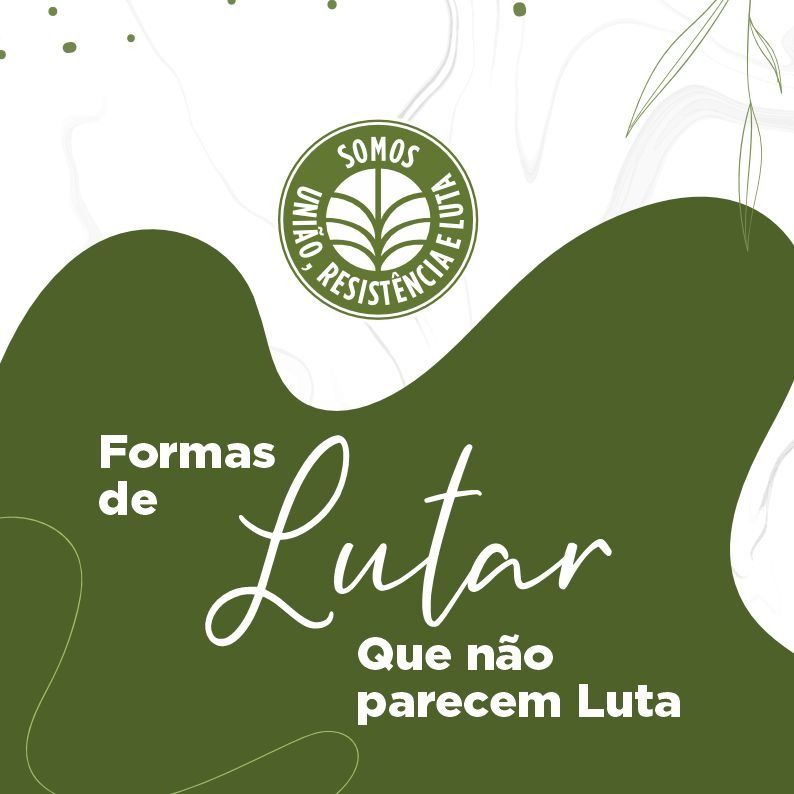Por Marcio André dos Santos (Unilab – Campus dos Malês)
Entre os meses de setembro e novembro de 2025, a APUB Sindicato realizará o curso de Letramento Antirracista, cujo objetivo é debater conceitos fundamentais no campo das relações étnico-raciais no contexto brasileiro contemporâneo. O curso tem caráter introdutório e foi pensado para um público que tem pouca familiaridade com esta discussão. Por esta razão, dividimos o curso em seis módulos e convidamos colegas especialistas na temática para contribuir com esta formação.
Ministrei o primeiro módulo que tem como título “Quem é negro e quem é branco no Brasil? Classificação por cor do IBGE e o debate sobre relações étnico-raciais”. O modelo de relações étnico-raciais brasileiro tem sido objeto de debates e análises acadêmicas e políticas por um longo tempo. Geralmente o modelo brasileiro relações étnico-raciais é comparado com o modelo estadunidense, inclusive com importações de categorias e termos que não refletem bem a nossa realidade. Em virtude das especificidades históricas que marcaram a formação social dos Estados Unidos, as identidades étnicas e raciais são, em geral, concebidas como categorias mais nítidas e delimitadas, a mestiçagem inter-racial entre brancos, negros e indígenas resultaram em um tipo mestiço, supostamente mais difícil de enquadrar em categoriais étnicas ou raciais específicas. Este é um longo debate que não teremos condições de desenvolver aqui. O mais importante é entender que a construção do “mestiço” ou do “mulato” atendeu a um ideário de nacionalidade das elites brasileiras do final do século XIX e ao longo de praticamente todo o século XX. Por trás do que se chamou de “ideologia da mestiçagem” escondia-se a projeção de um Brasil majoritariamente branco ou embranquecido que valorizava a descendência européia em detrimento da descendência africana e dos povos indígenas.
Essa ambiguidade típica do modelo brasileiro de classificação racial fortaleceu outro arranjo ideológico, popularmente conhecido por “mito da democracia racial”. Os defensores do mito da democracia racial sustentavam que no Brasil não existiria diferenças significativas entre os “grupos de cor”. Consequentemente, todas as pessoas ou grupos teriam condições semelhantes de disputar e ter acesso aos recursos existentes. O mito da democracia racial é, por definição, contrário ao consenso de que a sociedade brasileira tem o racismo estrutural como base e fundamento de sua formação.
Pesquisas acadêmicas que evidenciavam os vínculos entre raça/cor e renda, somados as reivindicações dos movimentos negros ao longo do século XX e início do século XXI ajudaram a desmitificar o “mito da democracia racial” do ponto de vista institucional. De forma geral, podemos afirmar que o Estado brasileiro e suas instituições reconhecem que o racismo e as desigualdades raciais constituem-se em um problema que precisa ser enfrentado de maneira sistemática, envolvendo todos os ministérios e esforços governamentais. Nos últimos 20 anos, uma série de políticas públicas de promoção da igualdade racial tem sido implementados em diferentes segmentos, visando ampliar a participação de pessoas negras (pretos e pardos), indígenas e de outras minorias étnicas e raciais minoritárias em diferentes setores da vida brasileira. As políticas de ação afirmativa são as mais conhecidas no rol de outras iniciativas e programas que promovem a inclusão desses grupos.
Levando tudo isso em consideração, não cabe mais indefinições sobre as identidades étnicas e raciais dos brasileiros e brasileiras, sobretudo quando se trata de redistribuição de recursos sociais para os grupos racializados e, consequentemente, prejudicados pelo racismo estrutural que nos caracteriza. Então quer dizer que as fronteiras étnicas e raciais são fáceis de identificar? Definitivamente não. O Brasil é um país continental, cheio de complexidades e singularidades regionais. Uma pessoa pode ser “lida” como negra em São Paulo ou no Paraná e ser “lida” como branca em Salvador ou no Recife. Uma pessoa de ascendência indígena pode ser vista enquanto tal ou pode ser “lida” como simplesmente “mestiça”, retirando-lhe assim atributos importantes de sua identidade étnica e cultural. Do mesmo modo que uma pessoa pode afirmar-se branca em Fortaleza ou em Belém do Pará e ser vista como parda ou até mesmo preta em outro contexto.
Raça não é um conceito fixo, engessado, atemporal. Justamente por isso, deve ser pensado como construção social e política. Só faz sentido falarmos em raça em referência a realidade do racismo que afeta diferentes populações por todo o país. Nas ciências sociais, utiliza-se a noção de processo de racialização para entender como as percepções étnicas e raciais são vistas e percebidas na esfera pública. O contexto social, neste caso, é importante para entendermos como racializamos os outros e como somos racializados nas mais diversas experiências vividas no dia a dia.
Quando alguém diz “não dá para dizer quem é negro ou quem é branco no Brasil porque todo mundo é mestiço”, esconde-se, na verdade o fato de que o acesso as melhores posições sociais, econômicas, de empregabilidade, etc, são ocupadas por pessoas brancas em detrimento de pessoas pretas e pardas. Devido ao ativismo dos movimentos negros, de organizações da sociedade civil e de uma crescente produção audiovisual de valorização das diferenças étnicas e raciais, além das políticas de ação afirmativa em curso por todo o país, temos visto cada vez mais pessoas assumindo sua negritude e pertencimento indígena e quilombola. Enfim, essas são algumas questões que serão debatidas neste primeiro módulo do curso de Letramento Antirracista da Apub. A ideia não é dar respostas definitivas sobre questões complexas e sim promover diálogos e interlocuções visando compreender o debate sobre as relações étnicas e raciais e promover uma maior conscientização em torno das lutas antirracistas na atualidade.